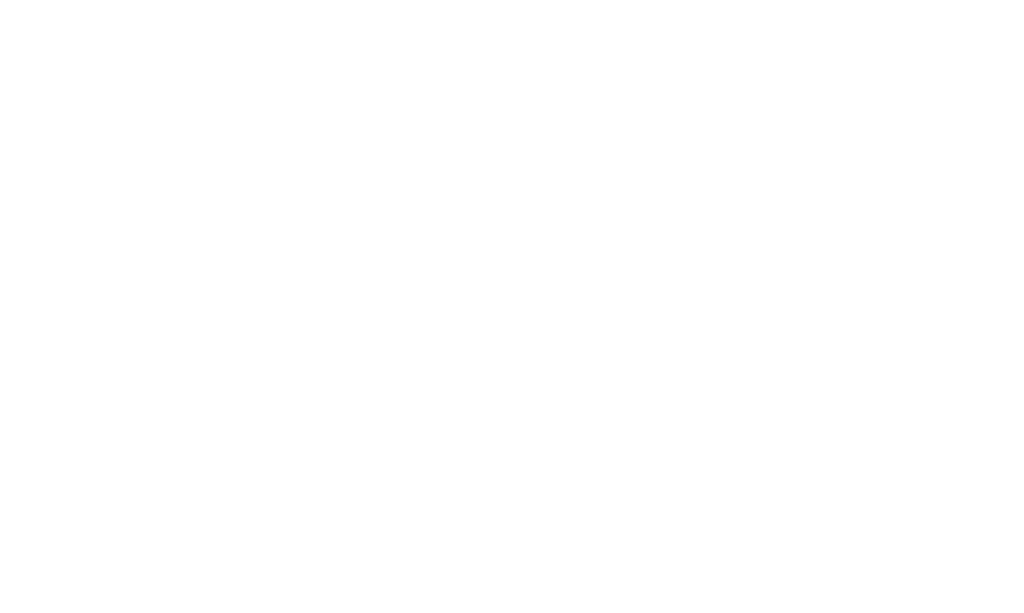O artesanato guarani-mbyá de uma comunidade da Província de Posadas, na Argentina, foi o tema da dissertação de Kauana Neves, defendida no Programa de Pós-graduação em Antropologia da UFPR este ano. O trabalho foi orientado pelo professor Marcos Silva da Silveira. A pesquisadora foi a primeira estudante a concluir um curso de pós-graduação da instituição após ter sido selecionada por meio de cota racial.
A política ainda é uma exceção na universidade, no total são seis programas com algum tipo de reserva de vagas ou processos diferenciados, três deles implementados em 2019. Além do programa de Antropologia, pioneiro na implementação, temos reserva de vagas nos programas de Desenvolvimento Territorial Sustentável do Litoral, Educação, Filosofia e Meio Ambiente. E o Programa de Pós-Graduação em Direito tem um processo diferenciado para migrantes.
O professor Paulo Vinicius Baptista da Silva, Superintendente de Inclusão, Políticas Afirmativas e Diversidade da UFPR, espera que a política já implementada com sucesso na graduação siga avançando na pós-graduação. Ele destaca que os cotistas vem tendo o mesmo despenho do que os que participam da concorrência geral e muitas vezes chega a ser melhor, prova que isso não afeta a qualidade do ensino.


“Não é natural que tenhamos grupos de pesquisa e mesmo programas de pós-graduação que tem a participação de pessoas negras e de outros grupos minoritários irrisória ou inexistente. Faz parte do processo histórico e do racismo estrutural. As cotas poderão diversificar a presença na pós-graduação brasileira e coloca lá na direção de construir igualdade e inclusão social, sempre atendendo aos critérios de qualidade”, defende o professor.
Enfrentamento ao racismo
Kauana conta que sempre se deparou com o racismo na sua vida academia, “na graduação em diversas situações tive de falar que não era cotista, como se isso fosse uma vantagem, mas também para ser tratada de maneira igual aos meus colegas”. A pesquisadora conta que na pós também enfrentou problemas com o racismo mas, segundo ela, “por mais que minha experiência seja negativa, pior seria não ter acesso a este espaço”.
Artesanato guarani-mbyá – fotos de arquivo
Segundo a antropóloga, “a falsa ideia de superioridade estética, moral, social e econômica que uns possuem sobre outros só se resolverá através do embate, do incômodo e sobretudo do conhecimento. Principalmente no espaço acadêmico, que se pretende ser Universo como é a universidade, é necessário que aquele que se incomoda com a diferença se espreite e veja o que no fundo incomoda em si mesmo, qual é essa fragilidade que ele não quer expor diante a diversidade”.
Para Kauana a combinação da reserva de vagas com uma política de permanência estudantil, como vem acontecendo, é um ponto acertado no caminho para superar o racismo. “Porém não basta colocar o negro e o indígena dentro da universidade, é preciso que também ocorra uma conscientização daqueles que já tem por natural esse espaço dos motivos históricos dessas políticas”, completa.
Ela afirma ainda que “a experiência negativa do negro na universidade é a mesma experiência fora dela, acontece que a universidade possibilita ferramentas para que isso saia do inconsciente, não só dos negros quanto dos brancos, certamente isso gera incômodo, mas é com isso que podemos transformar as coisas”.
Trajetória
O interesse de Kauana pela área da antropologia começou ainda no ensino médio, quando conheceu a obra de seu, hoje, colega de profissão, Carlos Castaneda. Graduada em Antropologia na Universidade Federal da Integração Latino-Americana (Unila) em 2016, entrou no ano seguinte na UFPR.


Com uma trajetória um tanto incomum, a pesquisadora nasceu no Pará e teve o artesanato presente na sua vida desde muito cedo, seus pais eram hippies que haviam se conhecido em Brasília e percorriam o país vivendo da atividade. Depois de seu nascimento o casal se estabeleceu em Palmas, no Paraná, cidade onde morava a família do pai de Kauana, até o nascimento do irmão, quando o casal resolveu voltar a viajar. Quando os filhos atingiram a idade escolar, voltaram ao Paraná e se estabeleceram em Pato Branco, onde Kauana completou o ensino fundamental e médio.
Pesquisa
A experiência com o artesanato fez a diferença em sua pesquisa, sendo bem recebida pelos Mbyá logo de sua chegada devido ao grande reconhecimento que a comunidade tem pela produção artesanal. “Saber outro tipo de artesanato que não fosse o guarani- mbyá possibilitou que tivéssemos trocas entre o que eles produzem e o que eu sabia”, explica ainda a pesquisadora. Kauana aponta que o artesanato para este povo tem um significado que vai além da sua produção para o uso ou o comércio. “Significa dentre tantas coisas, uma tradição, um modo de ser Mbyá, ser Mbyá passa necessariamente por saber fazer artesanato”, aponta.
A relação dos indígenas com o contexto não Mbyá também foi discutida no trabalho. Com uma sensível diminuição de seu território devido a construção de estradas e de empreendimentos voltados ao turismo, os Mbyá necessitam manter relações contínuas com seu entorno. Segundo Kauana, a pesquisa mostrou que a comunidade não apenas se adapta às transformações, como em geral se pensa, mas que apesar da assimetria das relações estabelecidas também atuam por ditar seus rumos. “De forma alguma são os Mbyá agentes passivos, estão em constante luta na capital do estado, Posadas, e do país, Buenos Aires, reivindicando seus territórios e proteção”, completa. Kauana conta que seu plano é continuar pesquisando e pretende entrar em um curso de doutorado.
Confira a entrevista completa com antropóloga:
Você poderia contar um pouco da sua história, resumidamente qual foi sua trajetória até entrar no mestrado?
Kauana Neves – Nasci em uma cidade do interior do Pará, meus pais eram hippies e eles haviam saído de Brasília, onde se conheceram, vendendo artesanato e pegando carona. Ao nascer viemos para o sul do país com meu avô que era caminhoneiro, e meus pais se estabeleceram em Palmas, no PR, cidade onde vive a família de meu pai. Após o nascimento do meu irmão, meus pais decidiram viajar novamente, parando um tempo em Aracaju, cidade de minha mãe. Com o tempo escolar chegando, decidiram estabelecer residência em Pato Branco, cidade ao lado de Palmas, local de predominância de descendentes italianos. Concluí todo o ensino básico e fundamental em escola pública, no ensino médio minha mãe conseguiu uma bolsa integral no Sesi, onde despertou minha vontade em estudar no ensino superior. Aos 16 anos um amigo do colégio me falou sobre Carlos Castaneda, um antropólogo da UCLA [Universidade da Califórnia em Los Angeles] que estudou plantas medicinais no México com um índio xamã e escreveu uma porção de livros sobre autoconhecimento, essa informação foi tudo que precisei para buscar me formar em Antropologia, no ano de 2010 passei em Antropologia em Pelotas mas não tive condições de ir, ingressei em Administração na Utfpr de Pato Branco e detestei o curso, abandonei um ano depois, iniciei Letras em 2012 na mesma instituição, duas semanas depois passei em Antropologia na UNILA, me formei em 2016. Em 2017 ingressei no Ppga da UFPR.


Quais foram os principais achados em sua pesquisa sobre o artesanato guarani-mbyá?
KN – Algo que destaco desde a pesquisa na graduação, que foi o mesmo tema, é o fato de o artesanato não ser apenas um meio de subsistência, como se pensa no senso comum. Ele faz parte de um complexo e antigo arranjo mítico e social, mas que ao mesmo tempo se renova em cada nova criação das artesãs e artesãos. Ele significa dentre tantas coisas, uma tradição, um modo de ser Mbyá, ser Mbyá passa necessariamente por saber fazer artesanato.
A pesquisa em antropologia demanda uma visão muito sensível do pesquisador na busca de transcender sua própria perspectiva, como você trabalhou isso em campo e na pesquisa de modo geral?
KN – Desde o início da graduação em Antropologia somos colocados a confrontar nosso inventário de senso comum, preconceitos e julgamentos, é um “exercício” que chamamos de alteridade, estar no lugar do outro, é algo muito maior que “empatia”, é considerar os sistemas de mundo dos outros, a possibilidade de outros universos, outras maneiras de fazer e pensar as coisas. Quando chegamos no campo, essas considerações parecem muito mais simples em sala de aula, pois estamos o tempo todo nos atrapalhando em nossos preconceitos enraizados onde nem imaginamos, dizer que isso não existe ou que superamos isso é o caminho mais longo para de fato ‘deixar de ser’. Aprendi muito mais com os Mbyá do que poderia imaginar, estive disposta a ajudar e acabei eu sendo a pessoa que precisou de ajuda, o campo nos prega peças, que não nos trazem uma retribuição financeira, nem prestígio acadêmico, às vezes se quer se pode falar sobre isso, a não ser com nossos pares, que determinadas experiências os fazem cada vez mais em menor quantidade.


O fato de ter na sua vida pessoal um contato com um contexto de produção artesanal ajudou você na pesquisa? Poderia falar sobre isso?
KN – Sim, totalmente. O fato de ser uma artesã fez com que prontamente fosse recebida na comunidade que pesquisei. Foi algo que nos tornou iguais mesmo que vivendo em contextos completamente diferentes. Também saber outro tipo de artesanato que não fosse o guarani- mbyá possibilitou que tivéssemos trocas entre o que eles produzem e o que eu sabia.
Há uma ideia no senso comum de que os povos indígenas estariam congelados no passado, seus costumes e tradições seriam os mesmos de antes da ocupação europeia, vi que no seu trabalho um aspecto abordado é a relação da comunidade com contextos não guarani-mbyá, o que você pode falar do tema?
KN – A comunidade Mbyá que realizei minha pesquisa está rodeada por hotéis luxuosos e por rodovias, certamente que se sobrevivem aí, vivem se adaptando as pequenas e grandes transformações impostas. A pesquisa aponta que, assim como existe esse senso comum sobre a autenticidade indígena, existe por outro lado o senso comum de que esses indígenas se transformam pela imposição externa e somente por ela, quando na realidade, eles contam com o entendimento através dos mitos e de suas próprias histórias que certamente essas transformações ocorreriam e irão ocorrer. Socialmente é notória uma assimetria, fundiária principalmente, tendo em vista que os governos estadual e municipal determinaram nos anos 2000 a área que seria para os hotéis e a outra parte para os Mbyá, que já estavam ali mas tiveram seu território consideravelmente diminuído. No entanto, de forma alguma são os Mbyá agentes passivos, estão em constante luta na capital do estado, Posadas, e do país, Buenos Aires, reivindicando seus territórios e proteção.
Os povos indígenas têm sido vítimas de violências de diversos tipos, além da ocupação de seus territórios para atividades econômicas, especialmente agrícola, sem contar os séculos de ataques na busca de tratá-los como inimigos da “civilização” e coisas do gênero. Quais as diferenças nesse sentido da situação na Argentina e no Brasil, e como essa questão apareceu na sua pesquisa?
KN – Desde o início da pesquisa essa foi uma questão que busquei trabalhar minimamente, pois procurei me concentrar no fazer artesanal, acontece que por ser um tema amplo e profundo, que requer inclusive uma pesquisa exclusiva a respeito, ele teve de ser abordado. Institucionalmente, a responsabilidade fundiária no Brasil se constitui na FUNAI [Fundação Nacional do Índio], que responde no Ministério da Justiça, para ingressar em uma Terra Indígena (T.I.) enquanto pesquisador, por exemplo, é o primeiro órgão que se deve recorrer. Na Argentina esse ingresso ocorre de maneira mais informal porém não menos importante, no meu caso, recorri ao cacique que permitiu minhas visitas. Porém falando ainda sobre a responsabilidade estatal das terras indígenas, ela está sob supervisão do Ministério do Turismo, entretanto os estados possuem autonomia para a realização de políticas que no caso do Brasil ocorrem via Funai, em nível nacional. Isso está melhor detalhado no meu trabalho.
Você foi uma das primeiras pessoas a entrar por meio de cotas raciais na pós-graduação na UFPR, contexto em que, infelizmente, observamos uma baixa representatividade numérica de negras e negros, poderia falar sobre a importância dessa política e de como foi sua experiência pessoal nesse sentido?
KN – Por ter sido criada no Sul do Brasil, me acostumei a não ver pessoas negras em maioria em lugar algum. Isso foi um problema para a construção de minha identidade, que se resolveu em partes quando fui fazer a graduação em Foz do Iguaçu, na Universidade Federal da Integração Latino-Americana (Unila), que conta com estudantes da América Latina inteira, grande parcela negra e indígena. Acontece que me acostumei rapidamente com esse contexto e quando cheguei na pós, foi a primeira vez que decidi usar a política de cotas no ensino superior e percebi uma mudança brutal na minha condição, tanto pelo ambiente, pela cidade e principalmente pela condição de cotista. Lembro que na graduação em diversas situações tive de falar que não era cotista, como se isso fosse uma vantagem, mas também para ser tratada de maneira igual aos meus colegas. Na pós, por diversas vezes percebi que estava cumprindo um papel, uma situação impactante foi quando uma professora me interrompeu diversas vezes quando eu apenas havia começado a apresentar um texto. Eu disse que não estava contente com a situação, os demais colegas se calaram e alguns faziam caretas como se eu estivesse sendo inconveniente, lembrar desse episódio me desagrada, mas é importante falar sobre isso, como poderia falar de vários outros momentos, pois é algo que está no cotidiano de pessoas negras, todas as pessoas negras no espaço universitário tem histórias como essa em suas trajetórias. Por mais que minha experiência seja negativa, pior seria não ter acesso a este espaço. O Brasil teve um período maior de escravidão do que tem a abolição, é óbvio que isso estrutura nossa sociedade, que é composta por pessoas, as quais compartilham dessa estrutura primeiramente. A experiência negativa do negro na universidade é a mesma experiência fora dela, acontece que a universidade possibilita ferramentas para que isso saia do inconsciente, não só dos negros quanto dos brancos, certamente isso gera incômodo, mas é com isso que podemos transformar as coisas.
Ainda vemos uma postura segregacionista em muitas pessoas, mesmo no ambiente acadêmico, seja por certos costumes e práticas reproduzirem o racismo estrutural, ou mesmo simplesmente pelas pessoas serem racistas. O que você acha que tem avançado nesse ponto e o que não tem?
KN – Como disse acima, essa postura segregacionista e a falsa ideia de superioridade estética, moral, social e econômica que uns possuem sobre outros só se resolverá através do embate, do incômodo e sobretudo do conhecimento. Principalmente no espaço acadêmico, que se pretende ser Universo como é a universidade, é necessário que aquele que se incomoda com a diferença se espreite e veja o que no fundo incomoda em si mesmo, qual é essa fragilidade que ele não quer expor diante a diversidade. Institucionalmente, creio que a política de cotas, combinada com política econômico-social que já vem acontecendo é um ponto acertado. Porém não basta colocar o negro e o indígena dentro da universidade, é preciso que também ocorra uma conscientização daqueles que já tem por natural esse espaço dos motivos históricos dessas políticas.
O que você gostaria de ver como política institucional para combater o racismo?
KN – A divulgação científica no campo da história, da sociologia, da antropologia, da economia podem auxiliar na conscientização dos motivos da necessidade dessas políticas. Reforço dizer que combinado com as políticas de cotas, deve se ter as mínimas condições de moradia, alimentação e estudo para esses estudantes, o que implica em políticas de permanência.
E o que as pessoas no geral podem fazer nesse sentido?
KN – Ouvir o que as pessoas negras e indígenas tem a dizer, principalmente quando se refere a elas mesmas, é uma cena comum na universidade professores e colegas dizendo como o negro e o indígena tem de se comportar, como por exemplo, sempre causo um estranhamento quando as pessoas me conhecem e conhecem meu tema de estudo, pois existe um senso comum que negro dentro da universidade é para falar sobre racismo. Estar dentro da universidade sendo negro, indígena já é um ato revolucionário, podemos falar sobre racismo, mas também estamos falando e fazendo ciência como qualquer outro colega.
Por Rodrigo Choinski